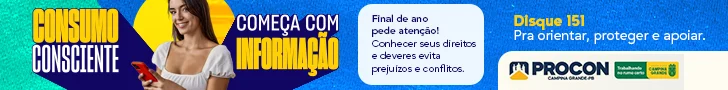‘Sem ajuda do governo, setor aéreo não sobrevive’, diz presidente da Latam
Jerome Cadier, presidente da Latam, odeia fazer home office. Ao menos duas vezes por semana vai ao hangar da Latam, em Congonhas, visitar o centro de operações, que segue trabalhando por conta dos 25 voos diários que a companhia ainda mantém — equivalentes a 3% da malha pré-pandemia do coronavírus.
Mesmo com essa redução drástica, os aviões estão vazios. Quando muito, fazem o transporte de médicos e equipamentos hospitalares. A situação é dramática para a aviação em todo o mundo, mas o pior ainda está por vir, acredita o executivo.
Em entrevista ao GLOBO, ele prevê uma queda brutal na demanda pelo transporte aéreo após a pandemia, da ordem de 30% a 40%. A combinação disso com um excesso de aviões no mercado vai pressionar os preços, dificultando a capacidade de as empresas recuperarem suas margens de lucro, diz.
“Vai ser um cenário muito crítico. Quem não tiver custo baixo, não sobrevive.” Por isso, ele cobra um socorro rápido do governo ao setor.
Quando se deu conta do tamanho da crise e que seria preciso deixar aviões no chão?
– No fim de fevereiro, tínhamos reuniões diárias para avaliar o voo para Milão, e teve um dia em que a ocupação caiu para 40%. Os passageiros foram cancelando. No mesmo fim de semana, teve um voo da American Airlines em que a tripulação se recusou a voar. Aí a gente viu que, opa, o cenário está mudando. No domingo resolvemos parar o voo. Duas semanas depois, quando fomos desenhar a malha de abril, não tinha passageiro. Nenhuma venda. Dava uma malha de 50 voos. A gente opera 750. Aí a ficha caiu. Paramos tudo. E começamos negociação com sindicato, fornecedor. Daí para frente, para usar uma expressão de uma coisa que odeio, o funk, foi “créu velocidade 5” (referindo-se ao ápice da coreografia de “Dança do Créu”, hit dos bailes funks em 2008).
Como está a operação hoje, com a malha essencial?
– Estamos queimando combustível. A minha malha hoje não paga o custo variável. Os únicos países em que estamos operando hoje são Chile e Brasil, atendendo a uma demanda dos governos. O ideal hoje seria parar de voar.
Já dá para enxergar algum cenário pós-crise?
– Ainda é desafiador falar sobre o que vai acontecer daqui a um ano, mas algumas coisas já estão claras. O primeiro desafio é não fazer com que o futuro da companhia se resuma a 2020. É equacionar o caixa, folha, fornecedores etc. Mas depois vem uma segunda onda que também é forte e que vai deixar o setor muito diferente. Teremos menos passageiros e um excesso de capacidade empurrando os preços pra baixo.
Quanto pode cair a demanda?
– Violentamente. Estamos trabalhando com uma queda de 30% a 40% para 2021. O passageiro a turismo vai ter menos economias e vai postergar a viagem. E o de negócios está encontrando outras maneiras de trabalhar.
Mas vocês vão reduzir oferta e isso não pode ajudar a ajustar os preços?
– Temos dificuldade em reduzir oferta. Avião parado tem custo. E nesse ambiente, o custo de operação virou o fator número 1. Como eu terei me endividado para sobreviver à primeira onda, vou querer botar o avião para voar. Se a margem não for positiva no curto prazo, eu morro no médio prazo. Vai ser um cenário muito crítico. Quem não tiver custo baixo, não sobrevive. Talvez as empresas sobrevivam à primeira onda. Mas muitas podem desaparecer em 2021, 2022.
Como reduzir custos?
– Vamos precisar trabalhar com um custo por hora de voo 25% menor. Mas, antes de me jogar pela janela, penso que essa mesma crise nos dá uma grande burning platform (expressão em inglês que descreve uma situação tão dramática que pede respostas urgentes). Tem que mudar tudo: a maneira de remunerar o tripulante e contratar mão de obra, os contratos com os lessors (empresas de leasing de aviões) e com os fabricantes, que terão de ser mais flexíveis.
E o que vai mudar na experiência de voo? Vai ter que ter distanciamento nas poltronas?
– Adotar um espaçamento, deixando o assento do meio sem ninguém, custa muito, você não paga o voo. É reduzir a capacidade de 180 pra 120 assentos. O passageiro que estiver voando daqui a um ano, vai estar preocupado com a higienização a bordo. O bilhete também vai ter que ficar mais flexível. Se eu não tiver como alterar o bilhete, não compro. Vamos ter que caminhar na direção de mais flexibilidade. E o setor é tudo menos flexível.
Acredita que as regras serão de fato flexibilizadas?
– A única coisa que consigo ver de positivo hoje é a possibilidade de revermos regras tão restritivas. Para que eu vou voar para o exterior se a lei me obriga a voar com o dobro de tripulantes do que preciso? O tripulante no Brasil só pode voar 60 horas por mês. No Oriente Médio, 120. Lá é menos seguro? Outro exemplo: a eficiência das avenidas aéreas. Em todo o mundo, você tem uma linha ótima que é o trajeto do ponto A ao ponto B. Nos EUA, a vida real é 2% diferente da linha ótima. No Brasil, 8%. Isso significa mais tempo no ar, queimando combustível. No pós crise, a ineficiência vai ser inaceitável. Vai ser uma oportunidade para Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Congresso e sindicatos sentarem juntos para desenhar uma aviação que fique em pé.
Há espaço para essas discussões em Brasília?
– Creio que a Anac tem percebido que algumas restrições terão que ser revistas. Fizemos recentemente um voo para buscar EPIs (equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde) na China. Foi preciso uma autorização excepcional para que os tripulantes pudessem voar mais horas do que o previsto na lei brasileira.
Como estão as conversas com BNDES?
– Sem ajuda governamental a indústria não sobrevive. A depender de quanto tempo durar a crise, com demanda inexistente, as empresas chegarão em situação de insolvência absoluta. E aí vai precisar uma ajuda mais contundente. As empresas precisam ter acesso a crédito. E ele terá de vir de fundos públicos.
É difícil para o banco público fazer uma avaliação das companhias sem saber qual tamanho elas terão depois da crise.
– É equivocado considerar o valor das ações antes da crise, mas não é justo pegar o valor de hoje (com grande desvalorização na Bolsa). Tem um risco, e ele precisa ser remunerado além dos juros. O BNDES está propondo uma opção conversível em cinco anos. Em cinco anos, o setor se recupera. Foi bom trazer os bancos privados para chancelar a precificação. Acredito que vamos chegar em alguma diluição para os acionistas mas é longe do que está na mesa. Não tem que ser como foi nos EUA, onde o governo injetou US$ 50 bilhões, sendo metade doado, com uma diluição no pior dos casos de 3%. Estamos pedindo R$ 10 bilhões de crédito. Com 30% de diluição, a matemática não fecha. Esse não é um setor que vai desaparecer. Pode ter o risco de uma ou outra, mas não de as três (maiores aéreas brasileiras) desaparecerem.
Quanto tempo vocês conseguem segurar com o caixa atual?
– Não sabemos o que vai acontecer com a demanda em maio. Mas conseguimos reduzir os custos trabalhistas com o programa voluntário de licença não remunerada, que teve uma adesão enorme. Pelos próximos três meses, são cinco mil funcionários a menos na folha. Se liberar o FGTS, mais gente pode aderir. Os 14 mil restantes estão em licença compulsória, recebendo 50% do salário. Mas seria importante sair nos próximos três a seis meses. Daqui a pouco vamos precisar discutir como vai ser julho e agosto. Não há garantia que todo mundo terá emprego na volta da licença.
Alguma ajuda pode vir da Delta (aérea americana que se tornou sócia da Latam)?
– Não tem nada sendo discutido. Eles colocaram US$ 2 bilhões para ter 20% da companhia. É um incentivo para que a Latam sobreviva. Não vão querer jogar esse dinheiro fora.
Como está a sua rotina em home office?
– Horrível. Tem sido bem difícil. Não tenho a disciplina, não consigo ser produtivo. Quando tenho uma chance, vou para o hangar para ver a equipe no centro de operações, os mecânicos.