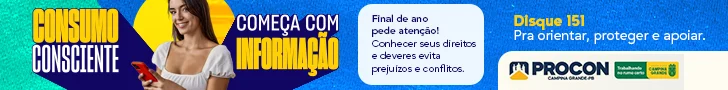‘Sou trans e policial; ao retificar gênero, fui recebida com abraços na PM’
“Não era um sonho ser policial, não sabia nem como era a profissão, só tinha uma ideia mais genérica. Não sei se é isso que quero fazer o resto da vida mas, hoje, amo o que faço.
Na época que entrei para a corporação estava fazendo direito na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) e trabalhava como agente comunitária de saúde onde cresci e moro, em Queimadinha, um bairro pobre de Feira de Santana, na Bahia. Tenho dois amigos que eram policiais e insistiram muito para eu fazer o concurso porque o salário era melhor do que o que eu tinha na época.
Fiz o concurso em 2012, ainda no padrão masculino, inclusive o teste de aptidão física. Fui convocada dois anos depois, em 2014. Naquela época, eu ainda não havia mudado meu nome civil. Mas já me entendia como mulher porque nasci fêmea.
Mas foi somente neste ano, depois da terapia e após encontrar meu atual companheiro, que sempre me apoia e gosta de mim como sou, que comecei a me sentir mais fortalecida. Em maio, fiz uma maquiagem e comprei uma peruca. Sempre gostei de me maquiar, mas fazia sempre algo muito sutil. Tirei uma foto e publiquei no meu perfil nas redes sociais.
No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, meus colegas me receberam com abraços e parabéns. Alguns diziam ‘sempre soube’. Uma colega disse: ‘Sou assistente social e posso te ajudar na retificação dos seus documentos’; uma capitã me disse que estava feliz e que a polícia já estava aceitando pessoas trans na corporação.
Foi quando minha comandante me chamou para conversar. Ela era a primeira mulher a ocupar essa função. Sabia que era para tocar nesse assunto, então já cheguei dizendo: ‘Se viu uma foto minha, sou eu mesma. Sou mulher, não quero mais cortar meu cabelo’. Ela respondeu que estava do meu lado e que me ajudaria. Também me explicou que, como eu estava no padrão feminino, a primeira coisa que teria que fazer era mudar civilmente meu nome e o gênero com o qual eu me identificava.
Em junho deste ano, fiz toda a documentação para retificação no cartório, nem precisei de advogados. No primeiro dia que fui trabalhar depois disso, todas as colegas mulheres estavam de batom. Recebi muitos abraços.
Minha relação com todos ficou muito melhor. Nunca fui destratada, mas era vista como uma pessoa gay na corporação, e não era assim que eu me identificava.
“Fui agredida com faca, tesoura e socos na escola”
Decidi estudar direito —o curso mais concorrido do vestibular quando passei, em 2010— porque sempre me vi no papel de ajudar os mais fracos. Mesmo me sentindo mais fraca também, sabia que tinha gente que era ainda mais, que não tinha o poder da palavra. Então me via me tornando uma defensora pública.
Por uma questão de saúde mental, tive que me afastar do curso temporariamente. Neste ano, retornei para a universidade. Já completei todas as disciplinas e só falta a monografia —estou escrevendo sobre criminologia digital— para me formar na graduação.
Sempre gostei de estudar. Apesar do bullying e dos ataques que sofria, quando eu estava em sala de aula era como se estivesse em transe. Era difícil ser uma criança considerada ‘viada’ na década de 1990. Mesmo que hoje, ainda, seja um período em que LGBTs sofram muitas agressões, naquela época não existiam legislações específicas, não tinha organizações que defendessem os direitos da comunidade.
Brincava apenas na frente da casa, tinha medo de ir na esquina porque logo já diziam: ‘Olha a travesti’, ‘o viadinho’. Isso simplesmente porque eu rebolava, tinha um rosto mais afeminado, o jeito de andar e todo meu comportamento era feminino.
Tenho marcas até hoje porque já me agrediram com faca, na escola me furaram com tesoura, me jogaram pedra, a merenda quente. Uma vez, voltando da escola, um homem me deu um soco e meus livros e óculos caíram no chão. Fiquei procurando os óculos, sem enxergar, e as pessoas me olhavam não faziam nada. Tinha nove anos e levei um murro de um homem mais velho do nada.
Em casa, dizia que eu tinha caído, tropeçado. Morava com meus pais e duas irmãs mais novas e queria poupá-los.
Apesar da violência e dos ataques, sempre fui uma boa aluna e era uma das primeiras da turma. Não estudava porque queria dar o troco, mas eu simplesmente gostava muito, sempre gostei muito de ler e isso me ajudava muito. Eu era otimista, mesmo sofrendo muito. Imaginava que não era deste planeta, que estava aqui numa missão especial, aquela coisa de criança, e que todo aquele sofrimento iria passar. Hoje faço terapia porque ainda tenho marcas físicas no corpo e na alma.
“Aos 39 anos, vivo meu primeiro relacionamento saudável”
Em todo esse processo, o que mais me ajudou foi ter conhecido meu companheiro. Tenho 39 anos, e esse é meu primeiro relacionamento saudável.
Sempre achei que eu tivesse nascido para sofrer e não ter ninguém. Ambientes gays eram muito heteronormativos e eu não fazia muito sucesso porque era muito afeminada. Tive um relacionamento muito tóxico para mim. Ele não aceitava a si mesmo e dizia que gostava de mulher, mas que me amava —eu ainda não havia retificado meu gênero. Ele me humilhava, e eu vivia esperando farelos de qualquer sentimento. Saí desse relacionamento em 2018.
Conheci o Lucas, meu marido, há mais ou menos dois anos, e estamos em uma relação desde o início de 2022. Moramos juntos, usamos aliança, nos consideramos casados. Já pagamos os boletos do cartório para o casamento, só temos que escolher a data. Só vamos nos casar no civil, sem muita formalidade, e só porque ele faz questão. Não tenho vontade de casar de branco, com vestido de noiva. A verdade é que, com ele, caso até de chinelo.
Com relação à profissão, ainda não sei o que vou fazer.
Meu plano, agora, é viver, além de sobreviver. Antes era só o segundo caso que importava, mas agora quero estar num estado de mais plenitude e felicidade. Sei que ninguém é ser feliz o tempo todo, mas quero tentar preencher ao máximo da minha vida pelo gosto de viver.”